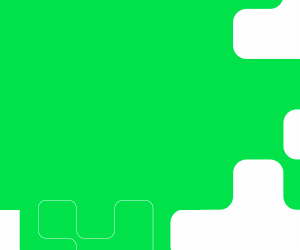Maior chacina de São Paulo faz 5 anos sem desfecho ou indenização a vítimas
A desempregada Alessandra Damas fez 42 anos nesta quinta-feira, 13, mas não vê razão para comemorar o aniversário. Quando esta data se aproxima, a diarista Rosa Correia, de 52, também sente o coração palpitar e, angustiada, se pega chorando. Já a aposentada Zilda Maria de Paula, de 67, acha até que foi ela quem morreu. Em comum, as três mulheres perderam parentes durante a série de ataques em Osasco e Barueri, na Grande São Paulo, que deixou 17 mortos e 7 feridos na noite de 13 de agosto de 2015, há exatos cinco anos.
Leia também: Cristo Redentor passa por desinfecção antes da reabertura no sábado
A maior chacina da história do Estado completa meia década com os ex-policiais militares Fabrício Eleutério, Thiago Henklain e Victor Cristilder, além do guarda-civil Sérgio Manhanhã, presos pelo massacre. Para o Ministério Público, eles teriam formado uma milícia para vingar a morte de um PM e um GCM dias antes.
Os quatro chegaram a ser condenados a mais de 500 anos de prisão, na soma das penas, mas o Tribunal de Justiça anulou em 2019 metade das sentenças e mandou refazer os julgamentos de Cristilder e Manhanhã – os novos júris ainda não foram remarcados, apesar de já ter passado mais de um ano da decisão. Até o momento, nenhuma família recebeu indenização do Estado pelos assassinatos.
Segundo relatam parentes de vítimas, a sensação é de saudade, incerteza sobre o futuro e descrença na Justiça. “A pior coisa é você viver na dúvida. É uma dor que nem ameniza nem vai embora de uma vez”, desabafa Zilda, mãe de Fernando Luiz de Paula, de 34 anos. Filho único, ele foi baleado no Bar do Juvenal, palco do maior dos ataques daquela noite, mesmo sem ter envolvimento com a morte dos agentes de segurança. “Eu que já estou condenada a carregar essa dor pelo resto da vida. Fui eu que morri.”
Zilda mora com seis cachorros em uma casa de Munhoz Júnior, favela no limite entre Osasco e Barueri. Lá, mantém o quarto do filho ainda montado, praticamente com todos objetos. Também não teve coragem de apagar uma marca de dedo e um risco a lápis no teto, feitos por Fernando, nem de mandar cobrir a parede que ele pintou de amarelo na sala. Só não vai mais visitar o túmulo no Cemitério Municipal de Barueri porque lhe causa má sensação.
A aposentada já perambulou por delegacias, montou e liderou um grupo de mães de vítimas para acompanhar o processo e prestou depoimento como testemunha nos dois júris realizados até aqui – ambos com duração de uma semana. Também estava no Palácio da Justiça na tarde em que as sentenças foram anuladas. “A gente fica esperando uma resposta que nunca chega. Já houve condenação, os caras recorreram e, daí, fica tudo no ar. É uma coisa que não acaba nunca”, afirma.
Para marcar a data de cinco anos, também organizou um protesto no bairro, previsto para acontecer neste sábado, mesmo com a pandemia do novo coronavírus, e para o qual passou dias costurando máscaras de proteção. “Já pensei em desistir algumas vezes. Tem hora que não dá vontade de fazer nada, mas dou graças a Deus por esses atos porque me animam um pouco”, relata. “Hoje, quando vejo que um moleque morreu na mão de um policial, parece que o é meu que está morrendo de novo. Olho aquela mãe falando na televisão e penso: ‘Ela não faz ideia pelo que ainda vai ter de passar’.”
Mãe de Wilker Osório, o Dedé, de 29 anos, a diarista Rosa Correia ganhou cerca de 20 quilos, piorou de diabete e passou a sofrer de hipertensão arterial desde que o mais velho dos três filhos foi morto em Barueri com 40 tiros pelas costas “Foram cinco anos muito difíceis, aconteceram muitas coisas decorrentes do episódio: mexeu com meu emocional, minha saúde. Não sou mais saudável como antes. Não dá para explicar a dor de uma perda. Não passa. É muito difícil.”
No guarda-roupa, Rosa ainda hoje guarda com cuidado um camiseta de Wilker, que continua marcada pelo perfume dele. Após a chacina, ela chegou a recolher todas as fotos do jovem pela casa, mas recentemente pôs um porta-retrato de volta na sala. “Não sei se eu conseguiria perdoar os assassinos. Quando lembro, meu coração dói, meu peito queima. Mas tenho pena do que fizeram com a gente e com eles próprios. Não destruíram só a nossa família, mas a vida do pai, da mãe, das esposas e dos filhos deles mesmos.”
Indenização
Por causa da pandemia, a diarista relata que está sem poder trabalhar, não conseguiu receber auxílio emergencial e chegou a viver de doações até julho, quando a filha conseguiu emprego. Como as demais famílias, também buscou indenização na Justiça, mas não recebeu nada. “Se Dedé estivesse vivo, tenho certeza de que seria diferente. Ele era muito trabalhador, me ajudava muito”, conta.
Com quatro filhas, Alessandra Damas trabalhava de auxiliar de limpeza na época dos ataques, mas hoje está desempregada. Irmã da vítima Thiago Marcos Damas, de 33 anos, também busca reparação na Justiça. “Sou separada, não conheci pai e minha mãe morreu há dez anos. Foi Thiago quem ajudou a criar minhas filhas: dava leite, dava gás, pagava uma conta. Hoje quem me ajuda? Ele foi o irmão que eu pedi a Deus e vem o Estado e acaba com a vida dele?”
Coordenador do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública de São Paulo, Davi Quintanilha Failde de Azevedo afirma que o órgão representa quatro famílias em ações de indenização, mas apenas uma já teria decisão favorável. Como cabe recurso do governo, ninguém recebeu ainda. “Dificilmente o Estado paga indenização que não seja por via judicial. Sempre tem essa resistência.” Ainda segundo ele, na sentença favorável proferida, a Justiça teria reconhecido que, no caso, o governo de São Paulo falhou ao permitir a formação de uma milícia dentro das forças de segurança.
Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) diz que, na esfera administrativa, não houve pagamento de indenização com fundamento na legislação estadual. “Os pedidos foram indeferidos, em julho de 2018, porque os elementos trazidos aos autos indicaram que os policiais agiram fora de horário de serviço, fora de suas funções e não se identificaram como agentes públicos.”
No comunicado, o órgão afirma que “não cabe à PGE, em respeito e preservação da segurança e à privacidade de cada eventual indenizado, divulgar valores e/ou datas de pagamentos”. Ainda segundo o governo, o Centro de Referência e Apoio à Vítima, da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, recebeu duas vítimas da chacina. Uma delas aderiu prontamente ao grupo de apoio.
Para acusação e defesa, ainda há assassinos à solta
Acusados da chacina, Fabrício Eleutério, Thiago Henklain e Victor Cristilder foram expulsos da Polícia Militar em 2019 e estão há quase cinco anos no Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte da capital. Por sua vez, o GCM Sérgio Manhanhã está preso em Tremembé. Todos alegam inocência até hoje.
Acusação e defesa discordam sobre a participação deles na chacina – enquanto a promotoria considera os quatro culpados, os advogados dos agentes afirmam que nenhum deles participou dos ataques. As duas partes, no entanto, têm um ponto em comum: acreditam que ainda há assassinos em liberdade.
“Esse crime, ao que tudo indica, foi feito por mais de 20 pessoas e estão todos soltos”, afirma o advogado João Carlos Campanini, que representa Cristilder e Manhanhã – eles tiveram a sentença anulada.
Representante de Henklain, o advogado Fernando Capano afirma que o cliente estaria preso injustamente – ele teve a condenação confirmada no TJ-SP. “Óbvio que essa chacina tem de ser investigada melhor, óbvio que os eventuais responsáveis têm de ser trazidos à barra da Justiça”, diz.
Já a advogada Flávia Artilheiro, que defende Eleutério, diz que os “verdadeiros culpados” ainda estão por aí. “Este caso é uma das minhas maiores dores profissionais, porque eu sei que condenaram um homem inocente a mais de 200 anos de prisão”, diz.
Em nota, a Secretaria da Segurança afirma que todas as ocorrências foram “investigadas e esclarecidas pelo DHPP e pela Corregedoria da PM”. Montada pela governo, uma força-tarefa indiciou 8 suspeitos – e a denúncia foi aceita contra 4.