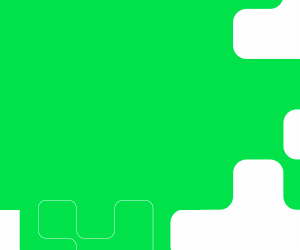Intelectuais franceses, ingleses e alemães, a Common Law e o Direito Romano
É fato que, ao longo dos últimos séculos, os intelectuais franceses e ingleses se achavam uma espécie de donos da inteligência humana. Bom lembrar que os gregos e os romanos, em seu tempo, pensavam do mesmo modo, em especial os gregos. O velho Aristóteles, gostem eles ou não, continua na ordem do dia. E, pelo jeito, vai continuar.
Mas o caso inglês tem, de fato, suas peculiaridades únicas. Sabemos que a famosa Carta Magna inglesa, de 1215, foi imposta ao rei João pelos barões e o clero ingleses. Ela estabeleceu limites ao poder real. O monarca deixou de ter poder absoluto. E determinou ainda que o governo estava sujeito à Lei. Impediu prisões arbitrárias e garantiu o direito a um julgamento justo. Os beneficiados eram basicamente os nobres. Mas nasceu com a Carta Magna o controle do orçamento público. Em especial, as pesadas despesas com guerras decididas ao bel-prazer do rei.
Sem dúvida alguma, a Inglaterra saiu na frente do resto do mundo. O simples fato de ter um orçamento público sob controle foi um passo gigantesco para colocar o dinheiro dos impostos a serviço da população. Ao longo do tempo, a tradição parlamentarista do governo de gabinete foi-se firmando. A confiança dos governados em seus governantes passou a ser a pedra angular de sustentação de um governo. Sem ela, o voto de desconfiança do Parlamento levava à queda do gabinete, que era substituído por outro após a realização de eleições gerais.
Em meados do século XIX, Lord Acton (1834-1902), resumiu numa frase as entranhas do poder: “O poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente, de modo que os grandes homens são quase sempre homens maus”. Para evitar que tal acontecesse, os ingleses passaram a monitorar seus políticos semanalmente. O primeiro-ministro presta contas de seus atos de governo ao Parlamento. E ainda tem uma reunião a sós com o rei (ou rainha), também toda a semana, para informar tudo aquilo que for de interesse do monarca saber. E sem mentir.
Em boa medida, essa ideia de manter o governo sob rédeas curtas pode explicar o fato de a Inglaterra não ter convivido com situações do tipo Revolução Francesa (1789), justamente por ter se livrado do absolutismo bem antes da França. Nesta, Luís XIV (1638-1715) ainda podia se dar ao luxo de proclamar “L´État c´est moi” (“O estado sou eu”). Quem pagou o pato foi seu bisneto Luis XVI, que acabou guilhotinado pela Revolução Francesa.
(Dentre os episódios dantescos do terror revolucionário, está a invasão de um convento em que os revolucionários quiseram obrigar as freiras a adorarem o Estado, renunciando à sua fé cristã. Elas riram, e se negaram. Simplesmente foram condenadas à morte por decapitação. E a enfrentaram corajosamente).
Na Inglaterra, um de seus mais ilustres intelectuais, Edmund Burke, em seu famoso livro “Reflexões sobre a Revolução na França” fez uma crítica dura ao terror revolucionário. E fez a defesa das instituições inglesas que permitiram reformas importantes em direção à melhoria do padrão de vida da população inglesa. Basicamente, ele argumenta que as revoluções são imprevisíveis e instáveis, o que pode levar à violência e à tirania. E acabou acertando, em boa medida, quanto ao que ocorreu com elas, com raras exceções, mundo afora.
Vejamos agora o que aconteceu com a França. A origem da Revolução Francesa pode ser encontrada nos enciclopedistas, uma pequena elite de letrados e técnicos, preocupados com a vida material e com o aperfeiçoamento do aparato estatal para melhorá-lo, e torná-lo mais racional. Eram também conhecidos como os filósofos, que não escondiam sua pretensão de estar à testa e na direção da sociedade. A velha história dos donos da verdade.
O parágrafo anterior deixa claríssima a pretensão de terem a receita do bolo institucional que levaria a sociedade à racionalidade administrativa, livrando-a dos dogmas e da influência da religião e do clero. Mas, como diria o nosso Garrincha, esqueceram de combinar com os russos. Dito de modo menos futebolístico, eles ignoraram a chamada common law, ou seja, o direito costumeiro reconhecido pelos juízes ao longo de gerações. Este se baseia em decisões anteriores em casos semelhantes, em vez de códigos, como é o caso do Direito Romano.
É verdade que ambos podem funcionar. No caso do Direito Romano, há que ter forte dose de bom senso para evitar a imposição de legislação que, por exemplo, entra em choque com as leis econômicas e outras, que são objetivas. Quando tal ocorre, surge a famosa lei que não pega, praga que a common law tira de letra, pois é baseada nos costumes. Ou melhor, ela já foi posta à prova na prática do dia a dia. Tornada lei, não tem como não funcionar.
A common law permitiu aos ingleses se manterem sempre com os pés plantados firmemente no duro chão da realidade. A alegria com que a intelectualidade francesa abriu os braços para Marx e Freud sempre foi vista pelos ingleses (e americanos) com um pé atrás. A teoria do valor trabalho e a luta de classe como motor da História foram desmontadas, faz tempo, no mundo de língua inglesa. Restam apenas poucos recalcitrantes.
Nos meus anos de Universidade da Pensilvânia (1977-1980), Freud já estava muito desgastado. Suas teorias não eram aceitas como científicas. A psicologia americana se desenvolveu em outra direção bem mais objetiva e efetiva, como no tratamento da depressão, como a terapia cognitiva, dentre outras.
Para não deixar de fora a longa tradição filosófica alemã, mas levando em conta seus escorregões, cabe relembrar Schopenhauer, em seu pequeno livro “A Arte de Escrever”. Ele se refere à questão da ininteligibilidade, ou seja, a arte de escrever difícil como se fosse sinônimo de profundidade, “introduzida que foi por Fichte, aperfeiçoada por Schelling e finalmente alcançou o seu clímax em Hegel, obtendo sempre o maior sucesso”, em suas duras palavras.
Em suma, franceses e alemães, nem sempre pisam em chão firme. A preocupação maior dos intelectuais precisa ser com a dura realidade para não compactuar com as tragédias da História.
**Gastão Reis é economista, palestrante e escritor