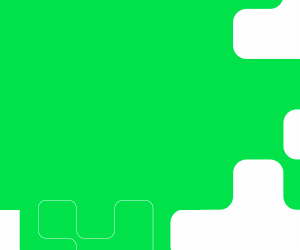Quando é que vamos, de fato, enfrentar a desigualdade?
É bastante cansativo acompanhar a preocupação de todos com a aguda desigualdade brasileira. E constatar o pouco que foi feito ao longo de décadas e mais décadas. Um dos sintomas mais evidentes é a grande diferença entre a média salarial paga no setor público e no privado, em que aquele é remunerado em quase o dobro de quem faz a mesmíssima coisa no setor privado, em especial no caso da alta burocracia do serviço público.
O processo de como essa brutal discrepância, duramente criticada por órgãos internacionais, se deu não é muito difícil de ser rastreada. Certamente, não foi antes de 1964. Até então, eram comuns nas rodas de cafezinho as usuais reclamações contra os baixos salários do setor público. Pagava muito mal, mas exigia pouco. Era aquela cena típica do pagador de impostos num sentido amplo (a inflação elevada, pesado imposto sobre os mais pobres) que ia a um serviço público requerer algum documento e recebia como resposta o clássico: “Isto é com o Fulano, que deu uma saidinha. Ele deixou o paletó na cadeira. Deve voltar daqui a pouco”. O mau atendimento era a regra.
Após 1964, foram tomadas medidas para contornar o problema, ao tornar o setor público mais atraente em termos salariais. Ainda me lembro bem de colegas meus na Faculdade de Economia/UFRJ, no final da década de 1960, fazendo concurso para o Banco Central. Os salários eram, de fato, atraentes. O mesmo acontecia com os bancos comerciais e de investimentos dos estados brasileiros. O serviço público em geral passou a ser mais cobiçado em matéria de salários somados à estabilidade garantida aos funcionários.
Até aqui era razoável que providências fossem tomadas para compensar a diferença salarial gritante, na época, entre os dois setores, o público e o privado. Pessoas realmente competentes passaram a ver no setor público uma boa opção de emprego com o referido bônus de ser estável. Aos poucos, entretanto, os salários do setor público, nos três níveis de governo, foram num crescendo sem o devido monitoramento relativo aos valores pagos face aos vigentes na iniciativa privada para as mesmas tarefas.
Ainda me lembro bem de um parente meu, que regressou ao Brasil e pretendia ir trabalhar no setor privado após seis anos de estudos de mestrado e doutorado numa universidade americana. Depois de várias tentativas ao longo do ano de 2010, verificou que seria difícil uma colocação acima de dois mil reais mensais. Logo após, foi lançado um concurso para uma instituição do governo federal cujo salário inicial era de seis mil reais. E lá foi ele para o setor público, tendo sido aprovado num dos primeiros lugares.
Ao longo das décadas de 2010 e 2020, permaneceu assim, sem mudanças significativas na discrepância favorável ao setor público. É óbvio que a juven-tude mais bem preparada do País, normalmente formada em escolas privadas, sabia do que estava acontecendo. E passou a ser objetivo de vida trabalhar no setor público. Decisão racional, face aos salários oferecidos. Sabemos, por outro lado, que a real geração de riqueza e renda, a médio e longo prazos, não se dá via setor público, e sim no setor privado.
Como reverter essa disfunção salarial entre os dois setores? Na verdade, seria preciso fazer o inverso do que foi feito nas últimas décadas. Ou seja, estabelecer mecanismos de redução dos salários pagos no setor público em direção ao que é pago no setor privado para os mesmos serviços. Não se trata de uma ideia fora de contexto. Na Suécia, por exemplo, os aumentos salariais nas empresas, em bases percentuais, são mais elevados nos extratos inferiores do que para os situados no topo, visando melhorar a distribuição da renda. Providência de que necessitamos urgentemente.
Mas seria algo viável, politicamente, adotar medida semelhante no Brasil?
Certamente, não seria nada fácil, mas não é impossível. Imaginemos que o País adotasse uma política salarial de manter os reajustes salariais de modo a compensar a inflação. Ou seja, em termos reais as pessoas estariam mantendo seu poder aquisitivo. Entretanto, os ganhos de produtividade da economia repassados aos salários, de acordo com as faixas salariais, seriam mais elevados para os extratos mais baixos e menores para os situados no topo.
Mas seria equivocada do ponto de vista da teoria econômica? Não parece ser o caso quando nos pautamos pelos argumentos do laureado com o Prêmio Nobel, o economista americano Kenneth J. Arrow em seu livro “The Limits of Organization” (1974, sem tradução). Ali ele afirma que: “O sistema de preços, de modo algum, leva a uma justa distribuição da renda”. Por si só, mantém na mesma a desigualdade. Milton Friedman propôs, então, uma renda mínima para os mais pobres de modo a contornar esta disfunção do sistema de preços.
A proposta aqui vai além, pois não é apenas uma rede de apoio aos mais necessitados. Ela inclui um processo de reajuste salarial em direção à maior igualdade, reduzindo dessa forma a desigualdade. A solução tem um lado político que evidencia a impotência do(a)s cidadã(o)s. Seria necessário um plebiscito, sempre tão raro entre nós. A decisão de uma proposta como essa via plebiscito não apresentaria surpresa quanto ao resultado. Afinal, a grande maioria da população recebe baixos salários. Seria também um teste para nossa capacidade como povo de prestar solidariedade, além das situações de catástrofe em que nos saímos muito bem.
Antes que você pense, caro(a) leitor(a), que se trata de sonho impossível, é bom lembrar que os 10% mais ricos dos EUA retêm 25% do bolo da renda ao passo que no Brasil encostam em cerca de 50%. Ao compararmos os mais ricos brasileiros com os americanos, mesmo abocanhando 50% da renda nacional, os nossos são menos ricos em termos absolutos do que os endinheirados americanos. Em outras palavras, a brutal concentração da renda no Brasil acaba fazendo com que as pessoas mais ricas aqui enriqueçam menos do que seus equivalentes nos EUA, e sejam cercadas de pobreza por todos os lados.
A Suécia dá o exemplo. Que tal copiarmos, e termos a coragem política?