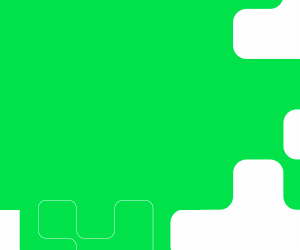A questão (não resolvida) do corte de gastos
O jornal O Globo de domingo, 23/04/2023, traz matéria de página inteira sobre Esther Dweck, ministra de gestão e de inovação em serviços públicos. Vem com o título “Uma zagueira de Haddad que prefere qualidade a corte de gastos”. Pelo jeito, a ministra se esmera em inserir qualidade nos serviços públicos, coisa que você e eu, caro(a) leitor(a), gostaríamos muito de receber e nunca somos devidamente contemplados.
Na mesma matéria, a jornalista Geralda Doca nos remete a uma coletânea de estudos que a atual ministra ajudou a montar, em 2020, intitulada “Economia pós-pandemia: desmontando os mitos de austeridade fiscal e construindo um novo paradigma econômico no Brasil”. O título nos faz lembrar da Nova Matriz Econômica da época da Dilma, que deu no que deu.
Obviamente, os economistas ortodoxos criticaram a ministra, afirmando que ela aposta em soluções fáceis para o Estado. Para ela, a questão poderia ser resolvida por aumentos salariais e de número de funcionários. Um deles, ortodoxo anônimo, bate na tecla do “aumento da eficiência e da produtividade” no setor público com “profunda revisão do modelo de carreiras”.
Não há necessidade de qualquer tipo de destroncamento de cérebro para perceber quem tem razão nessa sinuca de bico em que se transformou a administração pública brasileira nas três esferas de governo. A primeira constatação é que é impossível encontrar um cidadão pátrio realmente satisfeito quando tem que recorrer aos serviços públicos no Brasil. As queixas são sempre frequentes. Ainda me recordo do parto a fórceps de um amigo meu para fazer a divisão de uma loja num shopping da região serrana fluminense.
Deixando de lado exemplos específicos de insatisfação, vejamos agora o quadro mais amplo do nosso pesado e incômodo setor público. Diversas instituições internacionais já se debruçaram sobre a questão da remuneração e da quantidade do funcionário público brasileiro. Nos meus anos de juventude, era comum a queixa de que era mal remunerado. Mais de meio século atrás, a reclamação tinha certo fundamento.
A justa medida seria aproximar ou igualar a remuneração do setor público àquela do setor privado para a mesma função. De um modo geral, esta é a situação da grande maioria dos países em que os salários oscilam mais ou menos no mesmo patamar entre os dois setores. Não foi isso que aconteceu no Patropi. Os aumentos salariais, desde 2003, com a chegada de Lula e do PT ao poder, seguido de Dilma, foram num crescendo bem acima do razoável, que seria mantê-los em patamar equivalente para o mesmo tipo de trabalho. Mas foram muito além, como mostram estudos nossos e internacionais, atingindo em média o dobro do que é pago no setor privado para fazer a mesma coisa.
Para complicar o quadro, o funcionário público, em pouco tempo, ganha estabilidade. Em português claro, isso significa que, mesmo que seu desempe-nho seja sofrível, é praticamente impossível demiti-lo. A lição dos tempos iniciais da legislação trabalhista de Vargas, em que o trabalhador após 10 anos de serviço numa empresa privada passava a ter estabilidade, foi esquecida. Os casos de mudança de comportamento para pior (baixo desempenho) após o trabalhador ganhar estabilidade se avolumaram de tal ordem que a legislação foi mudada, pondo fim à estabilidade no setor privado.
Cabe ainda chamar a atenção para o discurso de prefeitos no palanque eleitoral e ao pé do ouvinte de um conhecido a seu lado num almoço. Neste caso, a reclamação é sempre sobre a dificuldade de obter do funcionário estável o desempenho que deveria ter. A solução acaba indo na direção de contratar os chamados temporários, que dão conta do recado justamente por saber que poderão ser trocados sempre que for necessário. Essa saída tem sido obstada por instâncias da justiça, alegando ser ilegal. Novamente, a lição dos tempos de Vargas continua sendo esquecida. O que fazer então?
A despeito dos nossos problemas sempre postergados e não resolvidos, há que se reconhecer a criatividade brasileira, que nem sempre vai na direção correta. Mas, no caso, era razoável. A proposta era reduzir a folha salarial nas três instâncias do setor público, reduzindo a jornada e remunerando de acordo com o tempo trabalhado. Exemplo: um prefeito poderia pagar a metade a um funcionário público se ele ficasse em meio expediente. A proposta valia também para estados e para o próprio governo federal.
Não era exatamente a solução ideal, mas prefeitos e governadores apoiaram a proposta com entusiasmo. Passariam a ter a opção de colocar uma parcela de seus funcionários, digamos, em meio expediente, podendo assim reduzir sua folha salarial significativamente. Seria uma possibilidade de realizar cortes de custos no setor público sempre inchado em número de funcionários. Durante a pandemia, no setor privado, essa solução foi adotada. Ainda que, neste caso, a dispensa do trabalhador pudesse até ocorrer.
Espertamente, recorreram ao STF para saber da constitucionalidade da proposta no setor público. Numa votação apertada, se não me engano, 6 a 5, a decisão foi que no setor público era inconstitucional. Uma ministra chegou a produzir um voto estranho: aceitava a redução de jornada sem diminuição do salário do servidor. Ela só esqueceu que se a jornada dele caísse pela metade, com o mesmo salário, ele estaria ganhando o dobro por hora trabalhada. Além disso, o STF conseguiu a proeza de estabelecer dois tipos de cidadão. Um deles (10%) com direitos que a imensa maioria, em torno de 90%, não tem.
O efeito letal dessa decisão do STF foi duplo: impediu o corte de gastos na pesada folha salarial do setor público e ainda jogou contra a elevação da produtividade no setor público. Como assim? Muito simples: os funcionários que continuassem em tempo integral mudariam de atitude para evitar redução de seus salários em expediente reduzido. E foi assim que o STF deu uma dupla “contribuição” contra os interesses do País. Mas outras continuam ocorrendo.
Assista: “DOIS MINUTOS COM GASTÃO REIS: “Não ao manicômio tributário”