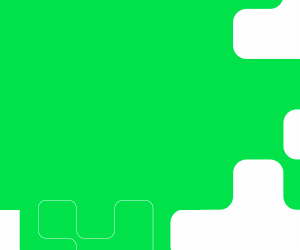Sistemas e Colégios Eleitorais, legitimidade da democracia, Bolsonaro e Lula
E se eu lhe dissesse, caro(a) leitor(a), que existe um país, considerado uma grande democracia, que teve presidentes eleitos pelo voto popular, que não tomaram posse, mas sim, seu adversário na eleição presidencial? Se pensou nos Estados Unidos da América, acertou na mosca.
O sistema eleitoral americano é complexo e, às vezes, difícil de entender. Os pais fundadores dos EUA sempre tiveram muito cuidado em não permitir a chamada ditadura da maioria. Preservar o direito das minorias se expressar lhes parecia, com razão, um valor democrático fundamental a ser preservado. Não só isso, a preocupação deles é que democracia saudável deve funcionar de baixo para cima. Por isso, criaram os colégios eleitorais, voto distrital puro e recall (a revogação do mandato do representante pelos representados quando este não estiver se portando à altura).
Para início de conversa, o Brasil republicano, ainda hoje, não dispõe de nenhum desses dispositivos que garantem o controle efetivo do político pelos seus representados. E daí a síndrome permanente dos eleitores brasileiros ao se manifestarem desiludidos com a política e com os políticos. Dizem que só são procurados nas eleições, a cada quatro anos. A raiz do problema de não prestarem contas regulares todo mês se deve ao fato de não termos o voto distrital puro. E ainda à incapacidade legal de o eleitor poder substituí-lo. É como tentar trocar um pneu sem uma chave em cruz.
Nos EUA, a parte mais complicada é a questão do colégio eleitoral, que efetivamente define quem vai ganhar a eleição. Cada estado tem seu colégio eleitoral com determinado número de membros, que guarda relação com a população de cada estado. A diferença é a seguinte. O candidato a presidente que vence as eleições em cada estado leva todos os votos para ele na reunião final de todos os colégios eleitorais do país. A primeira reação nossa é achar estranho que o candidato vencedor pelo voto popular possa não ser o vencedor na soma de votos de todos os votos dos colégios eleitorais.
Qual a razão de os americanos conviverem com um sistema que permite tal situação sem modificá-lo até hoje? Seriam eles, de certa forma, antidemocráticos? Não é bem assim. Tem a ver com a democracia que deve ser exercida de baixo para cima. E assim respeitar a vontade soberana de cada estado para apontar quem é o vencedor. Portanto, quem vence na soma dos votos dos colégios eleitorais é o que será reconhecido como eleito. Se mais da metade dos estados, via colégio eleitoral, respeita quem venceu naquele estado, o presidente eleito só será reconhecido como tal se vencer também na soma de votos dos colégios eleitorais. Evita o que podemos chamar da ditadura de minorias. Ou de determinados estados ou regiões.
Sou adepto da história alternativa proposta pela historiadora americana Barbara Tuchman em seu famoso livro “A Marcha da Insensatez”. Ela nos convida a repensar o rumo da História quando existe, em determinada época, clara consciência de duas ou mais alternativas e optamos pela pior, como foi o caso da guerra do Vietnam levada avante pelos EUA. Ela, de fato, não vê razão para se falar em história alternativa quando só havia consciência de uma única opção em determinado período histórico.
Vejamos agora, adaptando, o que teria ocorrido no Brasil, no segundo turno da eleição entre Lula e Bolsonaro, supondo ter aqui o colégio eleitoral por grandes regiões – norte, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste – cada uma com direito a seus votos. Neste caso, teríamos um placar de 4 a 1, pois Bolsonaro venceu em quatro macrorregiões e Lula em apenas uma, o Nordeste. A vontade dos eleitores dessas quatro regiões, com maior peso demográfico e econômico, prevaleceria. Mas Lula venceu por 12 milhões de votos a seu favor no NE, região com menos de 25% da população do país, e menos de 2% no total geral.
Qual seria a utilidade deste exercício de história alternativa, já que nossas regras eleitorais (eleitoreiras, a rigor) são outras? Logo, não há como questionar a legitimidade da eleição de Lula. Será? Então, seria o caso de concluir que os presidentes americanos que não foram eleitos pelo voto popular majoritário seriam todos ilegítimos? Nenhum americano concordaria com isso, pois todos eles são considerados legítimos pelas regras da democracia de baixo para cima. Podemos até discordar delas, mas não, simploriamente, contestá-las.
Na verdade, fazer este exercício de história alternativa tem como objetivo mostrar a fragilidade do nosso atual sistema eleitoral. Nos meus tempos de estudo na Universidade da Pensilvânia (1977-1980), sempre me chamou a atenção o cuidado que os americanos dispensavam ao estudo de diferentes sistemas eleitorais passíveis de serem adotados, vantagens e desvantagens de cada um, para garantirem a legitimidade democrática e a representatividade de seus parlamentares nos três níveis de governo, e ainda daqueles que atuam nos poderes executivos municipal, estadual e federal. A manutenção dos colégios eleitorais tem a ver com a democracia de baixo para cima, impedindo situações como a que acabou de acontecer no Brasil.
A legitimidade democrática é tanto maior quanto maior for a voz das bases. As primárias, sempre vigentes nos EUA, são um filtro popular para captar o pulso e o voto do cidadão que está na base do processo eleitoral. No Brasil, é evidente a dificuldade de os partidos (ou rachados?) consultarem as bases na definição de seus candidatos. O Brasil republicano tem um caso de amor com a política de cima para baixo. Toma decisões como dobrar o fundo eleitoral de três para quase seis bilhões de reais ao invés de destinar essa diferença para outros fins como educação e saúde, como certamente desejariam os eleitores. Ou seja, o próprio bolso vem antes dos interesses do País.
O exemplo americano nos serviu para medir quão distante a propalada democracia brasileira está em ouvir e acatar suas bases, cidadãos e cidadãs. Onde ficou a legitimidade democrática de baixo para cima?
Link para vídeo meu, ECONOMIA ESQUIZOFRÊNICA, que, pelo jeito, por via política, vai voltar a ocupar o palco de nossas desilusões: