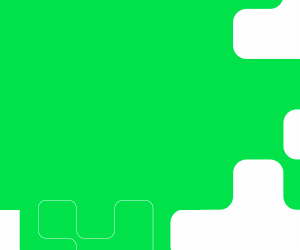Amadorismo institucional: A questão das chefias de estado e de governo
As brumas do tempo quase nos fizeram esquecer que Chefia de Estado e de governo podem – e devem – ser poderes separados. Na tradição europeia em geral, que inclui a portuguesa, essas duas figuras não se misturam, quer nas repúblicas, quer nas monarquias. A sabedoria política secular da Europa jamais embarcou na canoa furada do presidencialismo latino-americano que juntou os dois poderes no presidente da república. Tornou-se um ser esquizofrênico que exerce o poder executivo e o de fiscal de si mesmo, a chefia da Estado, com a típica complacência que temos em relação a nós mesmos.
É significativo que o artigo 2º da atual constituição portuguesa afirme que se trata de um Estado democrático de direito, onde também estabelece a separação e interdependência dos poderes. Não menciona, como na nossa e provavelmente nas latino-americanas, poderes independentes e harmônicos, literalmente uma contradição em termos. Ao mencionar interdependência e não independência revela que tem os pés firmemente plantados no duro chão. O constituinte português teve plena consciência de que interdependência abre espaço para eventuais conflitos entre os poderes.
Como solução para situações desse tipo, a constituição portuguesa separa a chefia de Estado da de governo. A chefia de Estado entra em ação quando os outros três poderes se desentendem. O Parlamento, por exemplo, pode ser dissolvido por ato do chefe de Estado, com convocação imediata de eleições gerais de tal forma que um novo governo surja das urnas. As crises são resolvidas dentro do marco legal, e o cidadão não fica à mercê de “soluções” arbitrárias tipo golpes ou intervenções militares cujo histórico na América Latina é o pior possível.
O caso português traz em sua Carta um dispositivo sui generis. República parlamentarista, tem um presidente e um primeiro-ministro, ambos eleitos. Mas é curioso que o presidente, o chefe de Estado, uma vez eleito, por dispositivo constitucional, é obrigado a se desvincular do partido que o elegeu. A ideia é que ele (ou ela) passa a representar a Nação Portuguesa e não mais o partido A ou B. Não obstante, Mário Soares, eleito presidente, depois de 30 ou mais anos membro do Partido Socialista, deveria se metamorfosear, num passe de mágica, e adotar uma postura equidistante de partidos, visivelmente um caso em que o uso do cachimbo deixa a boca torta a desafiar cirurgiões em plástica institucional impossível de ser realizada.
Essa situação nos abre as portas para debater qual seria o melhor tipo de chefe de Estado. Quatro pré-requsitos seriam aconselháveis. O primeiro deles seria não depender de grupos político-partidários para ocupar a posição de representante de uma Nação. O segundo, na mesma linha, diz respeito a não dever favores a grupos econômico-financeiros para chegar à posição que ocupa. Ter visão de longo prazo também seria fundamental para evitar as tentações do curto prazo que acabam sendo desastrosas a longo prazo. E, por fim, que seu interesse pessoal se confundisse com o público, ou seja, fosse sempre afinado com os interesses legítimos da população.
Curiosamente, não é possível atender simultaneamente a esses quatro requisitos se o chefe de Estado for eleito. Justamente por dever favores a grupos políticos e econômicos para se eleger. Os portugueses adotaram uma solução que em linguagem de economista é definida como second best, ou seja, a segunda melhor. Um monarca, por sua vez, tem condições de atender aos quatro requisitos ao mesmo tempo em função da educação e formação que recebe desde a infância. Já que Portugal tem uma Casa Real, poderia, após consulta popular, adotar a solução first best, vale dizer, a melhor delas.
Mas estaríamos apenas no plano teórico ou temos evidência empírica de que monarcas constitucionais funcionam melhor? Ao compararmos as quatro repúblicas mais importantes com as quatro principais monarquias europeias através de indicadores econômicos, políticos, sociais e culturais, temos a grata surpresa de que as monarquias se saem melhor.
O caso brasileiro também tem seu lado sui generis nessa questão de separar a chefia de Estado da de governo. Até 1889, tivemos o cargo de presidente do Conselho de Ministros, hoje normalmente denominado Primeiro-Ministro, e o de chefe de Estado, o monarca, no caso, Dom Pedro II. Sem dúvida que o poder moderador na época abarcava amplos poderes, invadindo prerrogativas que hoje seriam apenas do Primeiro-Ministro. Mas é importante notar que havia uma separação entre as funções administrativas do Primeiro-Ministro e aquelas de Estado, privativas do monarca.
Novamente, a mesmíssima pergunta: mas como, efetivamente, esse arranjo constitucional funcionava na prática? As reuniões ministeriais eram semanais. O então presidente do Conselho de Ministros tinha uma reunião em particular com o monarca, como ocorre ainda hoje na Inglaterra, com a diferença que Dom Pedro II participava das reuniões ministeriais. Mas era frequente que elas se desenrolassem do seguinte modo: as questões a serem decididas eram apre-sentadas e em seguida Dom Pedro II se retirava. E, ao sair, dizia: “A decisão agora cabe aos senhores”. Ou seja, as prerrogativas do poder moderador foram usadas com extrema parcimônia, uma delas durante a guerra do Paraguai, em 1868, com pleno êxito.
É fato que o Brasil se diferenciou dos demais países da região em dois pontos cruciais: não havia presidencialismo republicano pela natureza do regime monárquico e a preocupação de manter o firme controle civil sobre os militares. Nada disso existiu nos nossos vizinhos cujos problemas nessas duas esferas já se manifestaram agudamente desde o início do século XIX, quando de suas guerras da independência.
A mistura de presidencialismo com presença militar na política passou a ser para nós, desde 1889, o mesmo drama do resto da América Latina. Temos uma dinastia cujos monarcas e príncipes nos prestaram relevantes serviços na preservação do bem comum. Hora de chamá-los de volta, readequando suas funções como chefes de Estado. Basta de amadorismo institucional.
(*) Artigo do autor, “A Quebra da Tradição”, publicado nos jornais de Petrópolis, em maio de 2013, complementa o texto acima.