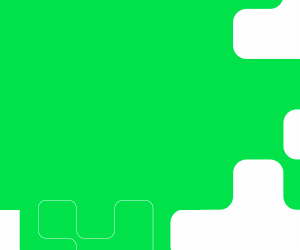Uso do dinheiro público no presidencialismo e no parlamentarismo
“O uso do cachimbo deixa a boca torta” é um ditado conhecido e certeiro. A adoção do presidencialismo por um golpe de Estado, em 1889, nos deixou com a boca torta e o bolso esvaziado por impostos escorchantes cujos benefícios para o cidadão são mínimos. Tendemos a ligar o piloto automático, por exemplo, aceitando a separação de poderes, harmônicos e independentes, como cláusula pétrea, oriunda de um momento de iluminação de Montesquieu, embora ele não tivesse tido a primazia. Na verdade, quando os três poderes – executivo, legislativo e judiciário – entram em conflito no presidencialismo, a solução é lenta, complicada e até autoritária, por inexistir um quarto poder, a Chefia de Estado, como ocorre no parlamentarismo, que entraria, de imediato, em ação. O que não se diz é que este quarto poder está acima dos demais para poder pôr a casa em ordem dentro da Lei e não através de golpes.
Não se trata de negar o papel que os três poderes tradicionais podem exercer no monitoramento mútuo, mas de apontar que em situações-limite sua independência e harmonia vira ficção, como constatamos no sofrido Patropi republicano presidencialista. O choque entre eles é óbvio para qualquer cidadão que mantém um mínimo de conexão com a realidade. Menos para o andar de cima, excessivamente bem pago, que tenta nos convencer que as instituições estão funcionando bem. A rigor e para nós, bem mal.
Não é que não existam artigos e livros sobre os efeitos de longo prazo de um país adotar o presidencialismo ou o parlamentarismo. Dentre vários outros, um pesquisador da Universidade de Yale, Prof. Juan J. Linz, tem um artigo bastante conhecido sobre os perigos do presidencialismo, publicado em 1990, no Journal of Democracy. No início de seu texto, ele nos informa, após estudar os dois regimes em diferentes países, que o parlamentarismo mantém a estabilidade democrática bem melhor que o presidencialismo.
O surpreendente é que o tema seja tão pouco pesquisado no Brasil. E com o agravante de ter sido um País que teve uma experiência parlamentarista bem sucedida no século XIX. O tema deveria ter sido muito mais estudado quanto à capacidade de cada um desses sistemas de governo de respeitar o dinheiro público, preservando o bem comum e não o de grupos privilegiados da alta burocracia. Nossos vizinhos de língua espanhola mergulharam direto no presidencialismo sem nunca ter vivido sob o sistema parlamentarista. Salvo pouquíssimas exceções, o saldo histórico do presidencialismo na região é pífio.
A corrupção e o desvio de rota ocorrido no Brasil após 1889 e nos nossos vizinhos desde sempre continuam na ordem do dia. As manchetes dos jornais dessa semana nos anunciam mudanças na Lei da Improbidade Administrativa (LIA) de 1992, que seria, segundo Editorial de O Globo, de 17.6.2021, o prin-cipal instrumento disponível para combater a corrupção. A visão do Estadão, na mesma data, é mais cuidadosa ao listar as brechas abertas na nova versão. Sua aprovação na Câmara Federal por 408 votos contra 67 desfavoráveis evidencia que o próprio umbigo dos deputados falou bem mais alto.
Sem entrar no mérito das mudanças propostas na lei de 1992, em termos de combate efetivo da corrupção, muito mais importante teria sido a aprovação da lei defendida pelo insigne advogado Modesto Carvalhosa, em 1994, criando o chamado bônus por desempenho (performance bond), existente nos EUA há mais de um século. Em obras públicas, coloca-se ao lado da empresa executora da obra uma seguradora independente cuja remuneração seria tanto maior quanto menor fosse o custo e o prazo de execução.
A grande diferença entre ambas é que o bônus por desempenho tem caráter preventivo e atua segundo forças de mercado, enquanto que a outra só atua depois do fato consumado. Quanta corrupção teria sido evitada se o bônus por desempenho tivesse sido aprovado em 1994! Talvez nem precisássemos da LIA.
Na república, não levamos a sério o alerta de Alexander Hamilton, datado de 1790(!), primeiro Secretário do Tesouro dos EUA, cargo equivalente ao nosso de Ministro da Fazenda. Diz ele: “Estados, como indivíduos, que observam seus compromissos são respeitados e confiáveis, enquanto o inverso é o destino daqueles que prosseguem com uma conduta oposta”.
O histórico brasileiro em relação ao princípio defendido por Hamilton foi de aderência ao longo do Império, não por cópia, mas por convicção de nossos estadistas de então de que era a coisa certa a fazer. Desde o início do período republicano, esse compromisso foi para o lixo. A verdadeira obsessão que os deputados do Império tinham de observar o cumprimento das rubricas do orçamento não se manteve. O escrito nem sempre era o realizado. Deixamos de ser confiáveis a ponto de os empréstimos externos serem avaliados por cafeicultores paulistas, pois faltava credibilidade ao aval do governo federal.
A bagunça na gerência das contas públicas e a falta de respeito ao dinheiro público atingiram absurdos como, em meados do século passado, o país chegar a ter três orçamentos, dois pró-forma e um que, na verdade, corria solto. Era a chamada conta movimento do Banco do Brasil, que tudo cobria com a “mágica” de muita inflação. Mais de 2/3 de século após a dita proclamação, a república continuava a não respeitar seu próprio orçamento.
Quanto ao bom uso do dinheiro público, há uma diferença marcante entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Este último impõe ao Primeiro-Ministro idas semanais ao Parlamento para prestar contas do que faz com as verbas públicas. Nada disso ocorre sob o regime presidencialista. Boa parte dos desvios do dinheiro público e da desilusão popular resulta dessa desastrada mecânica de funcionamento do presidencialismo no seu dia a dia. No semiparlamentarismo ora cogitado, o presidente eleito seria o Chefe de Estado, condutor da política externa e comandante supremo das Forças Armadas, tendo a prerrogativa de indicar o Chefe de Governo, que não precisaria ser membro do congresso, mas teria que formar maioria prévia para governar respaldado pelo Parlamento. Um primeiro passo na direção correta.